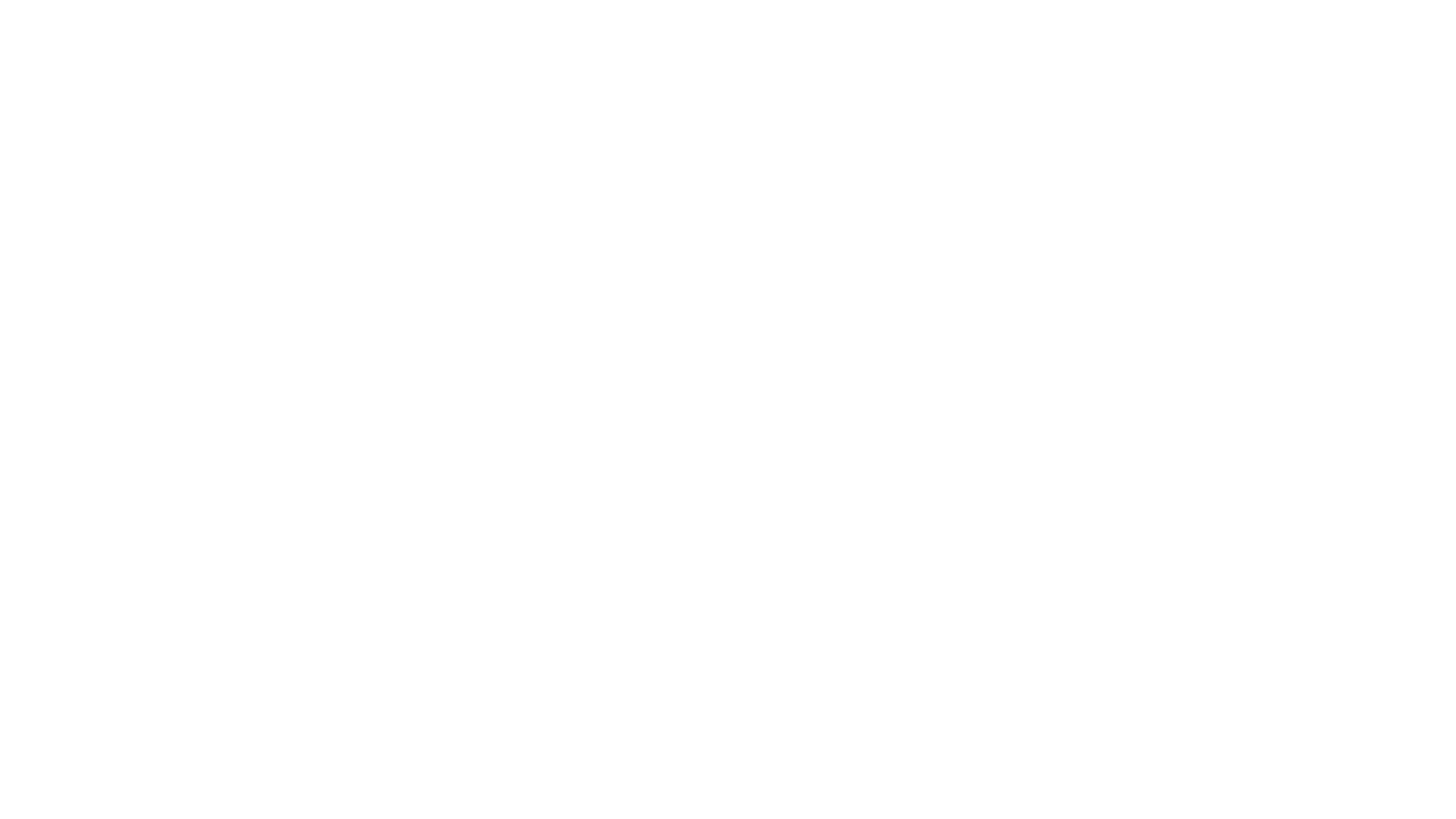O Semiárido brasileiro enfrenta desertificação, perda de biodiversidade e vulnerabilidade social. A iniciativa Floresta em pé, Renda justa propõe um sistema de Crédito de Carbono Social, regulado pelo Estado e operado em plataforma científica pública, aliado a certificação participativa comunitária. Combinando ciência, satélites, inteligência artificial e saberes locais, remunera povos indígenas, quilombolas, assentados e camponeses que conservam a Caatinga. O projeto tem potencial de bilhões em ativos climáticos, inclusão produtiva e fortalecimento da governança. A lição central é que justiça climática exige ciência cidadã e protagonismo comunitário.
A desertificação no Semiárido brasileiro já compromete 18% do território nacional e ameaça diretamente 39 milhões de pessoas. O bioma Caatinga, único exclusivamente brasileiro e maior floresta seca tropical do mundo, abriga 28 milhões de habitantes, incluindo cerca de 110 mil indígenas, 180 mil quilombolas, 1,3 milhão de assentados da reforma agrária e milhões de agricultores familiares. Essas populações são as mais vulneráveis às mudanças climáticas, à insegurança hídrica e à degradação dos solos.
Apesar de historicamente marginalizada, a Caatinga possui imenso potencial climático: sequestra entre 1,5 e 7,7 tCO₂/ha/ano, com eficiência de uso de carbono (58%) superior à de florestas úmidas. Mais de 70% do seu carbono encontra-se armazenado nos solos, representando um “cofre climático” de longo prazo. Entretanto, práticas predatórias como desmatamento, conversão em pastagens, monocultivos irrigados e expansão desordenada de energias renováveis têm resultado em perda de até 50% dos estoques de carbono e em graves impactos sociais e territoriais.
O desafio, portanto, não é apenas ambiental. Trata-se de um problema estrutural, que envolve concentração fundiária, exclusão econômica e fragilidade da governança. O modelo dominante beneficia poucos e externaliza custos socioambientais para comunidades tradicionais. Esse ciclo perpetua pobreza, desigualdade e vulnerabilidade climática.
Ao mesmo tempo, experiências locais apontam saídas concretas. Povos de fundo de pasto, camponeses e comunidades agroecológicas já praticam sistemas de recaatingamento, agroflorestas e manejo sustentável que recuperam áreas degradadas e garantem renda e segurança alimentar. Tais práticas revelam que a Caatinga não é um bioma inviável, mas sim uma solução estratégica para o Brasil cumprir suas metas de neutralidade de carbono e de degradação da terra (LDN) até 2030.
O estudo de caso nasce nesse contexto: a necessidade de transformar o potencial climático da Caatinga em ativo econômico regulado e justo, beneficiando diretamente quem historicamente a protegeu. A proposta integra ciência avançada, governança comunitária e certificação participativa para construir um modelo inédito de justiça climática e inclusão produtiva.
Photo by Esra Abdelrazig Elfaki
A construção da iniciativa Floresta em pé, Renda justa seguiu uma trajetória articulada entre ciência, movimentos sociais e instituições públicas.
Decisão inicial e objetivos:
O projeto foi concebido pelo Observatório da Caatinga e da Desertificação (OCA/INSA/UFCG) com o objetivo de remunerar diretamente comunidades tradicionais por serviços de conservação e sequestro de carbono. O marco inicial foi a constatação científica de que a Caatinga é um dos ecossistemas mais eficientes do planeta no uso e armazenamento de carbono. O objetivo central foi, portanto, converter esse potencial em renda justa, rastreável e regulada, combatendo pobreza e desertificação.
Estrutura organizativa e atores envolvidos:
- Comunidades geradoras de carbono social: indígenas, quilombolas, assentados, agricultores familiares e camponeses, organizados em cooperativas e associações.
- OPACCs (Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade Climática): núcleos locais de certificação comunitária, formados por universidades, ONGs, movimentos sociais e cooperativas.
- Observatório da Caatinga e da Desertificação: coordenação nacional, integração da plataforma científica, emissão de créditos certificados e base de dados aberta.
- Instituições parceiras: Sudene, MMA, BNDES, BNB, ASA, movimentos sociais (MST, MPA, comunidades indígenas e quilombolas), além de pesquisadores do consórcio científico.
Instrumentos e métodos:
- Plataforma digital científica: monitora, quantifica e verifica créditos de carbono com base em satélites, drones, IA e medições comunitárias.
- Certificação Participativa de Carbono Social (CPCS): inspirada no SPG da produção orgânica, garante rastreabilidade e protagonismo comunitário.
- MRV duplo: combina monitoramento remoto e validação comunitária, com upload de fotos georreferenciadas e visitas entre pares.
- Critérios de reconhecimento: manutenção de vegetação nativa, práticas agroecológicas, governança comunitária e evidência de co-benefícios sociais (água, biodiversidade, renda).
Alternativas consideradas:
O projeto rejeitou o modelo baseado apenas em mercado voluntário, optando por defender um mercado regulado de crédito de carbono social, conforme a Lei 15.042/2024, garantindo legitimidade estatal e inclusão produtiva. Essa escolha foi estratégica para evitar a concentração de benefícios em intermediários e assegurar que 95% da renda chegue às comunidades.
Etapas implementadas:
- Prototipagem da plataforma (arquitetura, modelos de cálculo e interface).
- Validação com comunidades parceiras no Semiárido (pilotos em áreas de recaatingamento e agroecologia).
- Criação dos OPACCs regionais.
- Estruturação de fundos de carbono social com parceiros institucionais.
Esse arranjo garante legitimidade social, consistência científica e sustentabilidade financeira, articulando Estado, sociedade civil e ciência cidadã.
Resultados alcançados até o momento:
- Valorização climática da Caatinga: consolidação científica de que o bioma sequestra entre 1,5 e 7,7 tCO₂/ha/ano, com 72% do estoque no solo, estimando-se 12 bilhões de toneladas armazenadas e potencial de quase 3 bilhões/ano de captura.
- Potencial econômico direto: estimativas indicam geração de R$ 48 bilhões com créditos de carbono armazenados em Unidades de Conservação e R$ 9 bilhões/ano com sequestro ativo. Só em territórios quilombolas, esse valor alcança R$ 3 bilhões estocados e R$ 600 milhões/ano.
- Governança comunitária: criação dos primeiros OPACCs, fortalecendo o protagonismo das comunidades na certificação e no monitoramento.
- Plataforma digital operacional: já integra sensoriamento remoto, dados de campo e certificação participativa, emitindo relatórios MRV auditáveis.
- Reconhecimento político: a proposta foi apresentada na COP 30 como programa nacional de crédito de carbono social, mobilizando governos, consórcios e movimentos sociais.
Problemas enfrentados:
- Concentração fundiária e conflitos territoriais: continuam limitando a expansão do modelo.
- Riscos de greenwashing e captura corporativa: exigem regulação estatal firme e controle social.
- Financiamento contínuo: a sustentabilidade da plataforma depende da combinação de receitas de créditos e aportes públicos.
Impactos esperados se superados:
- Expansão da escala de implementação para milhões de hectares.
- Consolidação do Semiárido como referência global em justiça climática.
- Transformação das comunidades tradicionais em protagonistas do combate à desertificação.
Impacto político e institucional:
- Fortalecimento do Observatório da Caatinga como referência nacional e internacional em monitoramento participativo.
- Inserção da desertificação e da Caatinga no centro da agenda climática global.
- Criação de um mercado regulado de carbono social no Brasil, com potencial de se tornar política pública permanente.
Sustentabilidade:
O modelo assegura que 95% da renda vá direto às comunidades, 5% mantenha a plataforma e o Observatório, e o restante financie infraestrutura e capacitação. Essa divisão garante justiça social, sustentabilidade financeira e capacidade de replicação em outros biomas.
Justiça climática exige descentralização: o protagonismo das comunidades no monitoramento e certificação garante legitimidade social, participação efectiva e continuidade das ações de conservação.
Ciência cidadã fortalece legitimidade: integrar dados de satélite com validação comunitária aumenta confiança, rastreabilidade e reconhecimento internacional dos créditos de carbono
Mercado regulado é essencial: evitar o voluntarismo impede a captura corporativa e assegura que os recursos cheguem diretamente a quem conserva e restaura a Caatinga.
Integração de saberes é chave: práticas tradicionais, como o recaatingamento, quando combinadas à ciência, são soluções eficazes, replicáveis e de baixo custo para restauração
Replicabilidade nacional e global: o modelo pode ser adaptado a outros biomas secos do Brasil e de outros países, ampliando escala, impacto social e relevância climática.