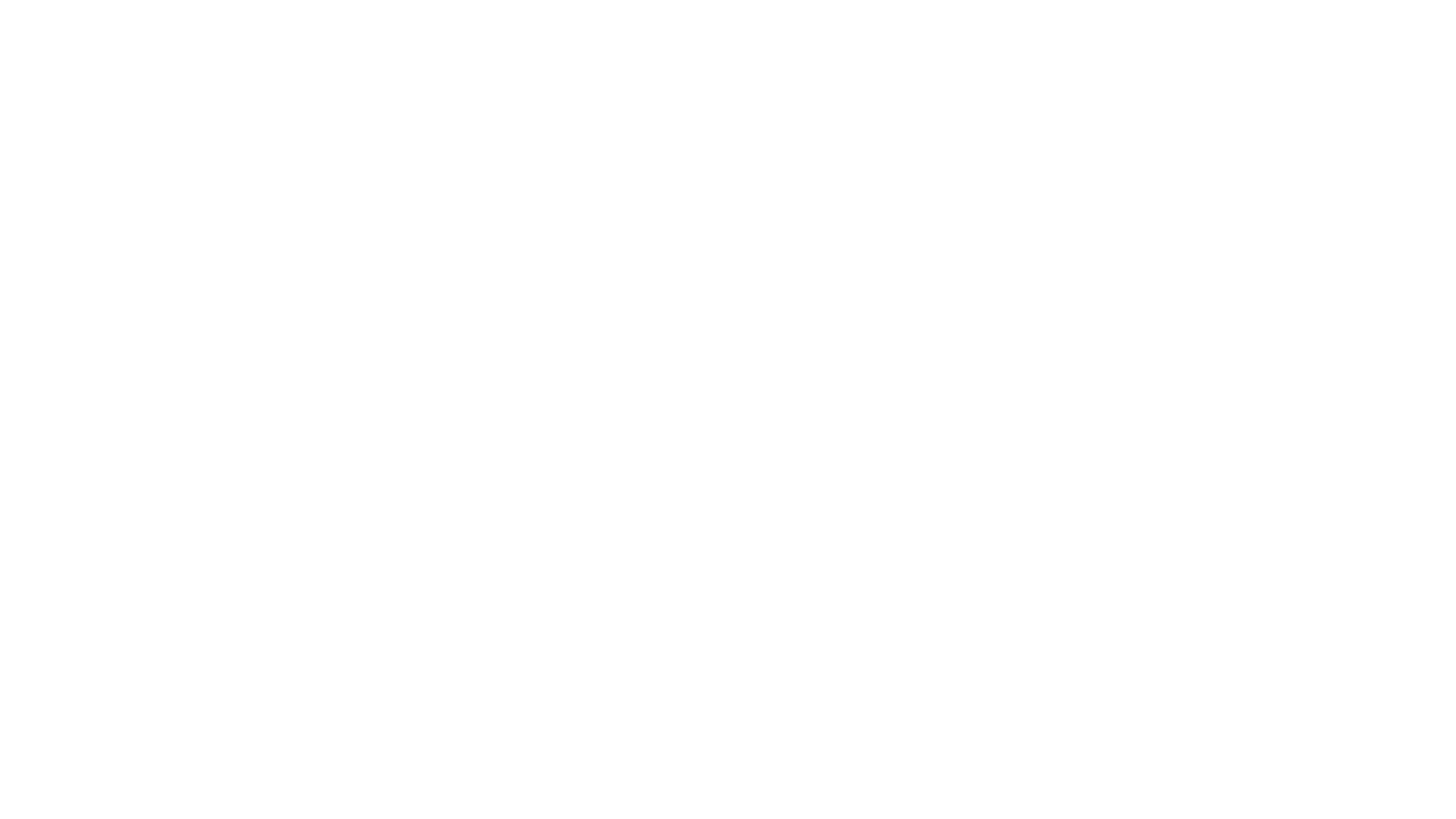O Semiárido brasileiro enfrenta desertificação, perda de biodiversidade e vulnerabilidade social. Este estudo mapeou 50 agroecossistemas familiares com o método LUME e indicadores ecológico-econômicos. Mostra que agroecossistemas diversificados, em paisagens complexas e bem manejadas, com estocagem de água, alimentos e forragem, são mais resilientes às mudanças climáticas e à desertificação. Sistemas agroecológicos alcançaram razão benefício-custo de 2–3:1. Conservar e restaurar a Caatinga pode gerar US$ 1.000–1.600/ha/ano em ativos climáticos. Diversidade ecológica e coesão social sustentam a resiliência à seca.
As terras secas cobrem grande parte do globo e concentram exclusões socioeconômicas. O Semiárido brasileiro (SAB) cobre >1,4 milhão de km² e abriga ~31 milhões de pessoas, majoritariamente da agricultura familiar. A irregularidade climática, com chuvas concentradas e longas estiagens, somada à conversão da Caatinga e à degradação dos solos, alimenta núcleos de desertificação que já atingem ~100 mil km². Solos degradados perdem fertilidade e carbono, reduzindo infiltração e retenção de água, afetando produção, renda e segurança alimentar; a biodiversidade declina e a vulnerabilidade social se agrava.
Apesar desse quadro, a Caatinga é a maior floresta tropical sazonalmente seca do mundo e detém alta eficiência climática: sequestra 1,5–7,7 tCO₂/ha/ano, com ~70% do carbono nos solos. Quando manejada de forma sustentável, torna-se ativo estratégico para mitigação, adaptação e geração de renda. Entretanto, por décadas, prevaleceram monoculturas irrigadas, megaprojetos energéticos e exploração predatória, ampliando desigualdades e pressões sobre terras secas.
Em contraponto, comunidades desenvolveram práticas de convivência: recaatingamento, sistemas agroflorestais (SAFs), quintais produtivos, bancos de sementes, infraestrutura hídrica social (cisternas/barreiros) e redes de reciprocidade. Essas estratégias mostram que agroecossistemas diversificados podem transformar variabilidade climática em resiliência socioecológica.
Este estudo, liderado pelo INSA com MPA, universidades, ONGs e comunidades, parte da pergunta: como tornar visível, mensurável e financiável a “economia da seca” que já funciona nos territórios? Aplicou-se o método LUME (análise ecológica-econômica), entrevistas semiestruturadas e três instrumentos integradores (linha do tempo, fluxos ecoeconômicos, qualidades sistêmicas), combinados a indicadores quantitativos (diversidade/riqueza de espécies, balanço/eficiência energéticos e proteicos, estoques de água e forragem, recirculação de nutrientes) e análises estatístico-espaciais (normalização não linear, PCA, conjuntos mínimos de dados e índices aditivos ponderados de resiliência).
Esse marco analítico demonstra, com rigor, que a resiliência brota da diversidade, da paisagem viva e do cuidado com a terra. Agroecossistemas não existem em vazio social: resultam da coevolução entre comunidades e natureza, sustentados por infraestruturas sociais capazes de absorver choques. No SAB, a resiliência climática nasce da biodiversidade vegetal, do manejo ecológico do solo e da água e da coesão social. Em síntese: agroecologia é conviver em comunhão — guardar, cuidar e caminhar juntos — articulando três estratégias centrais: (i) mobilização e formação para estocar riquezas a usar nas estiagens; (ii) redução de perdas e uso eficiente dos recursos; (iii) fortalecimento de redes de comunicação/solidariedade. Essa base orienta investimentos e políticas públicas.
Photo by BANDGAR RISHIKESH
Decisão e objetivos. Mapear e comparar agroecossistemas familiares resilientes para: (i) identificar mecanismos de resiliência socioecológica; (ii) medir desempenho técnico, econômico, social e ambiental; (iii) traduzir evidências em recomendações de política e mecanismos financeiros inovadores. Liderança técnica do INSA, em cogestão com o MPA; universidades e ONGs aportaram métodos, dados e capacitação.
Amostra e recorte territorial. Seleção de 50 unidades agrofamiliares em PI, SE, PE e BA, abrangendo combinações de subsistemas (quintais, SAFs, roçados, criatórios, áreas de Caatinga manejada), diferentes níveis de dependência de insumos externos e infraestrutura hídrica social.
Metodologia. Aplicação do LUME com imersões em campo e duas rodadas de entrevistas; três instrumentos integradores: (a) linha do tempo (mudanças estruturais e choques); (b) fluxos ecoeconômicos (entradas, saídas, reciclagem, autoconsumo, mercados e reciprocidade); (c) qualidades sistêmicas (diversidade funcional, autonomia, eficiência energética, cuidado e cooperação). Indicadores: biodiversidade produtiva, pessoas potencialmente alimentadas (energia/proteína), balanços/custos energéticos, estoques de água/forragem/sementes, matéria orgânica, cobertura do solo, integração animal. Análises: normalização não linear, PCA, conjuntos mínimos de dados e índices aditivos ponderados de resiliência (IRAw/IRAIwf), além de análises espaciais (agrupamentos, hotspots).
Participação social e papéis.
– INSA: coordenação científica; desenho/validação de indicadores; estatística e geoespacial; articulação com PAN-Brasil/UNCCD e políticas setoriais.
– MPA e comunidades: seleção de famílias; coletas participativas; validação social; mobilização de jovens e mulheres; devolutivas locais.
– Universidades/ONGs: apoio metodológico; formação; governança do conhecimento; difusão.
Sucessão de decisões. (1) Seleção territorial e amostra; (2) Coleta qualitativa (estrutura/funcionamento); (3) Consolidação de fluxos e qualidades; (4) Coleta quantitativa e séries climáticas; (5) Modelagem estatística/espacial e construção de índices; (6) Oficinas de devolutiva (ajustes e pactos locais); (7) Síntese de recomendações e portfólio de financiamento (compras públicas, programas hídricos, instrumentos por serviços ecossistêmicos).
Alternativas e priorização. Comparação entre sistemas simplificados vs. diversificados; testes de combinações de subsistemas e graus de autonomia. Priorização de sistemas com alta diversidade funcional, integração pecuária-agrofloresta, cobertura do solo e infraestrutura hídrica social, por exibirem maior reciprocidade ecológica, estabilidade de renda e menor risco produtivo.
Mecanismos financeiros analisados.
– Compras públicas (PAA/PNAE): escoamento e preço justo.
– Infraestrutura hídrica social: cisternas/barreiros como seguro climático.
– Instrumento climático inclusivo: desenho do Crédito de Carbono Social lastreado no sequestro de carbono (biomassa/solo) da Caatinga, com MRV científico público e certificação participativa, para garantir rastreabilidade, justiça e escala.
Implantação e desafios. Construiu-se base quali-quantitativa inédita. Desafios: logística interestadual, heterogeneidade de registros e baixa participação juvenil. Mitigações: equipes locais do MPA, devolutivas contínuas, formação prática e pactos comunitários.
Resultados técnico-ecológicos. Sistemas diversificados (≥8 subsistemas) apresentaram maior resiliência e saúde do solo, com estoques de água/forragem/sementes e recirculação de nutrientes/energia. Rearborização e SAFs elevaram em ~85% a biomassa total; áreas com árvores retiveram até 100 t de solo/ha/ano, reduzindo erosão e perda de fertilidade. A Caatinga manejada manteve 1,5–7,7 tCO₂/ha/ano de sequestro, reforçando seu papel como sumidouro e “cofre” de carbono (solo + biomassa).
Resultados econômicos. Os agroecossistemas alcançaram benefício-custo de 2–3:1. A análise “índice de agroecologização × rentabilidade” decifrou qutro tipos de sistemas: (1) com Alta rentabilidade, mas baixa agroecologização - Sistemas que ainda seguem lógicas mais convencionais e dependem de insumos externos; (2) Sistemas com alta agroecologização e alta rentabilidade — os mais sustentáveis e autônomos; (3) Sistemas com baixa rentabilidade e baixa agroecologização - sistemas mais vulneráveis, que carecem de apoio técnico e transição agroecológica e (4) sistemas com alta agroecologização, mas ainda com baixa rentabilidade – ou seja sistemas no caminho certo, mas que precisam de apoio para acessar mercados, agregar valor e gerar renda. Compras públicas (PAA/PNAE) estabilizaram fluxo de caixa e viabilizaram reinvestimento em manejo de baixo custo energético, agregação de valor e mercados locais.
Resultados sociais e de gênero. A desocultação do trabalho de cuidados e da participação social evidenciou a alta contribuição das mulheres no valor agregado e na governança cotidiana (organização, qualidade, mercados, cuidado com bens comuns). Fortaleceu-se o capital social (trocas, mutirões, redes de sementes). A juventude permanece desafio crítico para sucessão e inovação, exigindo programas específicos de formação, crédito e acesso à terra/tecnologia.
Impactos em políticas públicas e finanças. As evidências sustentam políticas de adaptação e combate à desertificação baseadas em agroecologia + infraestrutura hídrica social + compras públicas. Propõe-se institucionalizar o Crédito de Carbono Social regulado, com MRV público e certificação participativa, para remunerar diretamente famílias e comunidades que conservam/restauram a Caatinga. Estimativas indicam R$ 5–8 mil/ha/ano em ativos climáticos, criando casos econômicos robustos para a “economia da seca” e atraindo fundos climáticos, PSA e finanças de impacto.
Sustentabilidade e próximos passos. Perenidade exige três pilares: (i) métricas e governança participativa institucionalizadas (OPACCs, observatórios); (ii) expansão da infraestrutura hídrica social como seguro de base; (iii) mecanismos financeiros estáveis e inclusivos (PSA, crédito climático regulado, compras públicas). Próximos passos: ampliar séries temporais e monitoramento remoto; precificar co-benefícios (água, biodiversidade, saúde); criar trilhas de formação para jovens e mulheres; e replicar o modelo em outros biomas secos.
Quem ganha/perde. Ganhadores: famílias camponesas (renda/estabilidade), mulheres (reconhecimento), ecossistemas (solo/água/biodiversidade) e políticas públicas (evidências e custo-efetividade). Perdedores potenciais: cadeias intensivas em insumos e modelos extensivos de baixa eficiência, frente à ascensão de sistemas autônomos, de baixo custo energético e alto valor socioambiental.
Diversificação gera resiliência.
Sistemas com múltiplos subsistemas e redundância funcional mantêm produção e renda em estiagens, graças a estoques de água/forragem, cobertura do solo, integração animal e recirculação de nutrientes/energia. A diversidade cria “seguros ecológicos” que reduzem risco produtivo e estabilizam o sistema.
Ciência cidadã legitima decisões.
O método LUME, somado à validação comunitária e às análises estatístico-espaciais, qualificou indicadores e construiu confiança. Essa combinação fortaleceu recomendações de política e investimentos com base em evidências e legitimidade social, facilitando adesão e governança territorial.
Infraestrutura hídrica social paga.
Cisternas, barreiros e captações elevam segurança hídrica, reduzem perdas e custos, e potencializam a eficiência do manejo. Funcionam como “seguro climático” de base, aumentando produtividade, renda e saúde do solo, além de viabilizar quintais e SAFs.
Compras públicas impulsionam renda.
PAA/PNAE garantem mercado estável e preço justo, viabilizando reinvestimento em práticas de baixo custo energético, agregação de valor e redes locais. Ao reduzir a dependência de intermediários, fortalecem autonomia econômica e sistemas alimentares territoriais.
Crédito climático inclusivo escalona.
Um Crédito de Carbono Social regulado, com MRV público e certificação participativa, remunera serviços ecossistêmicos da Caatinga (solo/biomassa), canalizando R$ 5–8 mil/ha/ano para quem conserva. Gera casos econômicos robustos, justiça climática e replicabilidade em outros biomas secos.